Uma meditação sobre anarquismo e fronteiras.
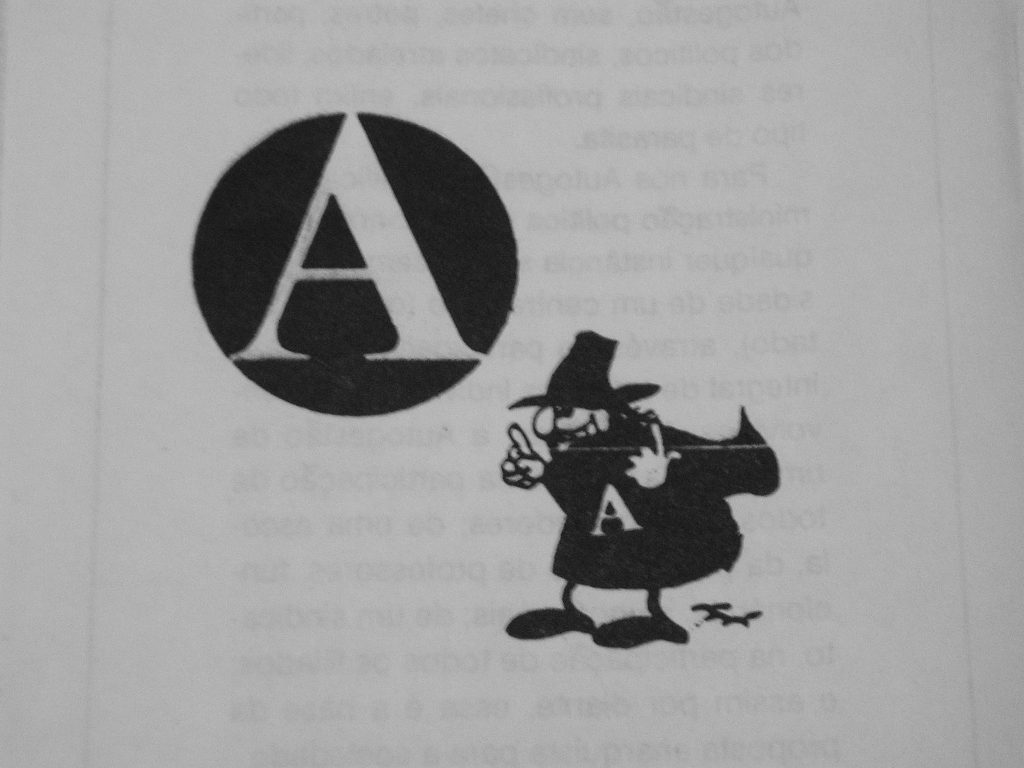
Por Thomas Martin
“Para governar para sempre… basta criar, entre o povo que se deseja governar, o que chamamos de… Má História. Nada produzirá Má História de forma mais direta e brutal do que traçar uma Linha, em particular uma Linha Reta, a própria Forma do Desprezo, no meio de um Povo — criar assim uma Distinção entre eles — este é o primeiro passo — Todo o resto seguirá como se estivesse predestinado, rumo à Guerra e à Devastação.”Thomas Pynchon, Mason & Dixon (1997)
Como anarquistas, devemos, em princípio, rejeitar a ideia de fronteiras políticas: afinal, elas definem o Estado de uma maneira muito concreta, e o Estado não é um fenômeno pelo qual sejamos apaixonados. O conceito, contudo, não se limita apenas aos Estados-nação. As fronteiras podem ser muito circunscritas ou podem abranger vastas regiões; as regras que as governam podem se aplicar ao espaço pessoal ou a impérios, e a tudo o que há entre esses dois extremos. Achille Varzi destaca que, se reconhecermos qualquer fronteira, ou mesmo parte dela, como artificial, então devemos aceitar que tudo o que ela contém é uma construção conceitual, algo sem existência objetiva. Se os anarquistas não rejeitam as construções artificiais em sua totalidade , devemos ao menos rejeitar aquelas que são impostas pela autoridade e quaisquer outras que sejam alegadamente imutáveis.
Como acontece com a maioria das ideias de senso comum, os filósofos pegaram o conceito de “limite” e o transformaram em algo exasperantemente incompreensível. Ainda assim, precisamos primeiro analisar algumas definições filosóficas. Os matemáticos da Grécia Antiga foram os primeiros a perceber o problema. Euclides descreveu um limite como “aquilo que é uma extremidade de qualquer coisa”. Aristóteles foi um pouco mais específico: um limite marca “a primeira coisa fora da qual nenhuma parte [da coisa] pode ser encontrada, e a primeira coisa dentro da qual todas as partes [da coisa] podem ser encontradas”. Infelizmente, isso não ajuda muito a menos que possamos concordar sobre o que é uma “coisa”. Os gregos estabeleceram o fundamento lógico do pensamento ocidental: a dicotomia intrínseca entre sujeito e objeto, e essa abordagem nos tem limitado desde então. Os limites são uma questão recorrente na Metafísica – o mundo está repleto de todos os tipos de fenômenos que podem ser identificados e nomeados, mas todos eles são “limitados” da mesma maneira? Uma chama tem o mesmo tipo de limite que uma rocha? O que significa dizer que uma entidade é ‘separada’ de outra? O que acontece com a fronteira quando dois objetos se tocam? As fronteiras têm dimensão ou extensão? E assim por diante.
Os escolásticos medievais, baseando-se em Aristóteles, complicaram ainda mais a questão. Gregório de Rimini, que trabalhou em Paris em meados do século XIV, definiu sensatamente linhas ou limites como “coisas divisíveis apenas em uma dimensão”. Leonardo da Vinci questionou se um limite faz parte da coisa que delimita ou se é apenas uma construção imaginária para a conveniência do observador: o que divide a atmosfera da água? É necessário que haja um limite comum que não seja ar nem água, mas sim insubstancial, porque um corpo interposto entre dois corpos impede o contato entre eles, e isso não ocorre na água com o ar… Portanto, uma superfície é o limite comum de dois corpos que não são contínuos e não faz parte de nenhum deles, pois se a superfície fizesse parte de um deles, teria volume divisível, enquanto que, no entanto, ela não é divisível e o nada separa esses corpos um do outro.
Descartes também concluiu que a fronteira não faz parte da coisa delimitada. No século XIX, pelas mãos de filósofos como Brentano e Frege, o debate recuou novamente para os domínios mais obscuros da matemática. No século XX, os linguistas se apropriaram dele, assim como a escola britânica do senso comum ou da linguagem ordinária. A física quântica, no entanto, introduziu um novo problema: quando partículas subatômicas surgem e desaparecem em nanossegundos, e os átomos que as compõem são em sua maioria espaço vazio, onde exatamente pode ser localizada qualquer fronteira ou superfície? Voltamos ao ponto de partida, com a fronteira como uma construção puramente mental, existindo em nossas próprias mentes como uma maneira conveniente de organizar o mundo que percebemos ao nosso redor, dadas as limitações de nossos sentidos e instrumentos. Podem existir fronteiras objetivas ou ontologicamente ‘reais’? [1]
A reflexão sobre este tema não se limita à filosofia ocidental. O Visuddhi Magga (um texto budista Theravada) nos lembra que simplesmente nomear uma coisa é atribuir-lhe limites:
Atribui-se um nome àquilo que se considera uma coisa ou um estado, e isso o divide de outras coisas e outros estados. Mas, ao investigar o que se esconde por trás do nome, descobre-se uma sutileza cada vez maior, que não possui divisões. Átomos de poeira não são realmente átomos de poeira, mas apenas recebem esse nome. Da mesma forma, um mundo não é um mundo, mas apenas recebe esse nome.
Este artigo trata principalmente de fronteiras que quase todos reconhecem como artificiais – as fronteiras geopolíticas – que, assim como os governos que servem, tendem a exercer uma força centrípeta sobre seu conteúdo social e econômico, atraindo todos e tudo para o centro, onde o poder está concentrado. Quanto mais exata a fronteira, mais facilmente o poder é calibrado. Os ecossistemas, em contraste, são centrífugos. Seu conteúdo é impulsionado em direção à fronteira proteica e porosa, que, consequentemente, se abre e se fecha, se desloca e oscila para acomodar as necessidades do sistema.
Embora todas as culturas reconheçam fronteiras políticas de uma forma ou de outra, foi na civilização ocidental que o conceito assumiu pela primeira vez um caráter tão dicotômico e dualista. Nem sempre foi assim: os romanos estavam a caminho de uma fronteira retilínea precisa antes de serem interrompidos pela chamada Idade das Trevas, mas nunca chegaram lá. No Domesday Book (1086), a paisagem da Inglaterra era descrita por uma grande variedade de termos, como oxgang : a quantidade de terra que um arado puxado por um boi podia cultivar em um dia. Ninguém se preocupava muito com perguntas que enlouqueceriam um agrimensor moderno: que tipo de arado, qual a força do boi, que tipo de solo, qual a duração do dia, como está o tempo? Ao longo da Idade Média, as fronteiras nacionais eram fluidas, dependendo dos rumos da guerra, casamentos dinásticos, tréguas temporárias e acordos. Tudo isso começou a mudar no final do Renascimento, devido a uma série de fatores, desde mapas impressos até a nostalgia pela clareza e exatidão romanas. É um legado lamentável do colonialismo que a fronteira nacional rígida e absoluta, pioneira na Europa e levada à precisão matemática na América do Norte, tenha sido imposta a todo o planeta. Ainda não vimos cada centímetro de cada fronteira demarcado com precisão geométrica unidimensional, mas não é por falta de tentativas por parte dos governos. Eles entendem que precisão é poder. Naturalmente, os anarquistas se opõem a tais fronteiras por princípio, por serem os “recipientes” do Estado, mas muitos de nós talvez não percebam o que estamos enfrentando.
Um bom ponto de partida é a etimologia. Este autor acredita na relatividade linguística, a expressão moderna da hipótese de Sapir-Whorf, que sugere que a língua em que pensamos afeta (em maior ou menor grau) a maneira como percebemos o mundo. Grande parte da linguagem é, na verdade, subconsciente e, independentemente de haver ou não (como argumenta Chomsky) uma base comum subjacente a todas as línguas, a genealogia de palavras individuais pode fornecer algumas pistas sobre conexões que podem não ser aparentes ao pensamento consciente.
A palavra inglesa “boundary” (limite) vem do latim medieval bodina , evidentemente uma palavra gaulesa cuja etimologia é incerta. Muito provavelmente, deriva, assim como bind (amarrar), ribbon (fita), bundle (pacote) e bandage (bandagem), da raiz indo-europeia bhendh , cujo sentido fundamental é “amarrar, prender, fixar, restringir”. Ao analisarmos os sinônimos, encontramos conotações de separação, restrição e lesão. “Border” (fronteira) vem de bherdh , que significa “cortar”. A palavra “fence” (cerca), relacionada a “defender” (defender), vem de gwhen , cujo significado original era “golpear” ou “ferir”; também é ancestral de “gun” (arma de fogo). Por outro lado, “limit” (limite) vem do latim limes , “limiar”, que pode ser um empréstimo do etrusco. Mas “limiar” em si vem do indo-europeu ter- , que significa “superar, romper” (através de, trans-). Os romanos originalmente usavam limes (plural limites ) para denotar as divisas entre campos. “Fronteira” vem do latim frons , “frente” ou “testa”, também evidentemente não uma raiz indo-europeia. O grego usava vários termos diferentes, baseados principalmente em őρος , “montanha” (as primeiras cidades-estado gregas eram frequentemente cercadas por montanhas); a raiz indo-europeia é provavelmente er/ ou , “erguer-se, levantar, correr, pôr em movimento”. É interessante notar (embora não com absoluta certeza) que as palavras “violentas” ou ativas são indo-europeias, enquanto as “pacíficas” não são – a “fronteira” convida a cruzá-la; a “fronteira”, não. As línguas indo-europeias (antes chamadas de “arianas”, antes de os nazistas arruinarem essa palavra) são as línguas da civilização ocidental necrófila e destruidora do mundo.
O ‘instinto’ territorial
A territorialidade, [2] conforme geralmente definida pelos etólogos, parece ser uma característica de muitas espécies animais, embora não de todas. Tem pouca ou nenhuma relação com o táxon – alguns insetos são territoriais, outros não; o mesmo ocorre com aves, mamíferos, répteis e assim por diante. O mesmo se aplica aos primatas. Provavelmente, evoluiu como resposta à disponibilidade de alimento. Aves insetívoras geralmente não são territoriais, visto que os insetos estão praticamente em toda parte e não são distribuídos uniformemente, estacionários ou concentrados em locais específicos. Aves de rapina geralmente são territoriais, pois precisam defender uma área relativamente grande onde o alimento (como roedores) é mais difícil de encontrar e escasso o suficiente para que outras aves de rapina possam representar competição. Os territórios geralmente, mas nem sempre, são defendidos contra membros da própria espécie. Podem ser “marcados” de diversas maneiras, mais comumente entre os mamíferos pela deposição de odores, e entre as aves por exibições agressivas ou ameaças que raramente se transformam em violência real.
Para os seres humanos, e provavelmente para algumas outras espécies, a fronteira mais fundamental é o ego, a sensação de “eu”. Todas as culturas geraram filosofias que buscam eliminar o ego, ou pelo menos demonstrar sua irrealidade fundamental. É uma questão interessante, embora esteja além do escopo deste texto, por que essas filosofias tiveram muito mais sucesso na Ásia (o budismo zen, por exemplo) do que no Ocidente (o misticismo cristão medieval), ou por que a ideia é mais ou menos irrelevante em outras culturas (a África subsaariana, por exemplo). Provavelmente, isso tem muito a ver com a linguagem, que no Ocidente tende a fragmentar a realidade em pequenos pedaços discretos e isolá-los em categorias. Entre as ideologias radicais modernas, a ecologia profunda é a que mais se preocupa com essa questão, sugerindo que não podemos esperar salvar o planeta a menos que nos identifiquemos literalmente com ele.
Ainda assim, é difícil definir qualquer organismo vivo sem lhe atribuir algum tipo de limite, por mais arbitrário que seja. Uma camada de células mortas, se estivermos falando de algo maior que o tamanho microscópico; ou pelo menos, nas palavras de Tyler Volk, “A vida nas menores escalas possui uma cornucópia de bordas protetoras.” [3]
Ultrapassando um pouco os limites do ego, encontramos o que geralmente chamamos de “espaço pessoal”, a zona ao redor do nosso corpo na qual outras pessoas não devem invadir. O espaço pessoal tem sido objeto de muitos estudos sociológicos e psicológicos nas últimas décadas, e provavelmente já o compreendemos razoavelmente bem. Aqui, estamos preocupados apenas com a espécie humana, mas é preciso reconhecer que a territorialidade é um produto da evolução e, portanto, está inata até certo ponto. Seu tamanho e se ela está ativada ou não dependem do ambiente. Ela está inata (talvez na amígdala) apenas no sentido de que todos a possuem; mas seu “tamanho” e, mais importante, a forma como a percebemos, varia imensamente de uma cultura para outra e um pouco menos entre indivíduos da mesma cultura. É bem documentado que os americanos, por exemplo, precisam de mais espaço pessoal do que os europeus, que precisam de mais do que os asiáticos, e assim por diante – a diferença tem a ver com a densidade populacional média nas casas e cidades dessas regiões. Também muda com o tempo, como documentado por Ariès e Duby em sua obra em vários volumes História da Vida Privada . [4] E, claro, varia dependendo de quem é a outra pessoa – podemos desligá-la completamente para o parceiro sexual certo, mas expandir seus limites para alguém de quem não gostamos. Todos desenvolvemos estratégias subconscientes para lidar com situações em que nosso espaço é invadido, mas não podemos fazer nada a respeito, como em um metrô lotado – evitando contato visual, por exemplo.
A expansão do espaço pessoal para a propriedade imobiliária pessoal provavelmente remonta aos nossos ancestrais pré-humanos, que caçavam em bandos que evoluíram ao longo do tempo para grupos e tribos. Os humanos viveram de forma bastante confortável, em pequenos grupos, durante centenas de milênios, como caçadores-coletores e caçadores. A mitologia de quase todas as culturas relembra com nostalgia esse Éden tranquilo. [5] Como os chimpanzés ainda fazem, a tribo tinha uma imagem mental compartilhada de um território vago no qual se reuniam e caçavam, e que de vez em quando precisava ser defendido contra outros grupos de humanos. Mas o território se movia com o grupo e não tinha limites no nosso sentido da palavra. Como Freya Mathews aponta, os chamados povos ‘primitivos’, como os aborígenes australianos e os San africanos (Bosquímanos), veem o mundo como um emaranhado de linhas, que os levam em várias direções em direção à caça, à água ou a lugares sagrados. Os povos pastoris e, mais tarde, os agrícolas, viam o mundo como um território circular, irradiando a partir de onde viviam. [6]
Como a maioria dos estudos sobre territorialidade humana provém de sociólogos e biólogos, fomos ensinados a compreender que se trata de um instinto ligado à agressão e partilhado com outros animais, sendo construído social ou ambientalmente apenas de forma periférica. A obra *Human Territoriality* , de Robert Sacks , publicada em 1986, representa uma opinião minoritária, mas provavelmente mais próxima da verdade. Nos humanos, a territorialidade nem sempre se expressa como agressão e serve a propósitos que seriam insignificantes para outras criaturas. “A territorialidade nos humanos é melhor compreendida”, escreve ele, “como uma estratégia espacial para afetar, influenciar ou controlar recursos e pessoas, controlando a área; e, como estratégia, a territorialidade pode ser ativada e desativada.” [7] Sacks é geógrafo e preocupa-se com as formas como as pessoas gerem a terra, o território físico. Ele demonstra claramente que o senso de território de um grupo pode ser alterado drasticamente pelo contato com grupos muito diferentes (os Chippewa e os europeus são seu principal exemplo), ou por tensões dentro do grupo, bem como por mudanças climáticas, questões econômicas e até mesmo religião – uma razão pela qual os bispos de Roma se tornaram os Papas todo-poderosos, diz ele, foi a posse física do túmulo de São Pedro. [8]
É impossível conceber qualquer relação humana que não tenha um componente espacial (ou, aliás, qualquer coisa que não tenha um componente espacial). De fato, existe um campo relativamente novo, a lógica espacial, que busca compreender como e por que um determinado conjunto de entidades se relaciona entre si para formar uma estrutura que persiste ao longo do tempo. Até o momento, a lógica espacial interessa apenas a matemáticos teóricos e filósofos estruturalistas, mas algumas aplicações são previstas para a cibernética e a linguística. Historiadores começaram a usar o termo ao analisar entidades flutuantes como redes comerciais e o efeito do aumento ou da diminuição da densidade urbana na vida cotidiana. De fato, argumenta-se de forma convincente que a história sem alguma forma de lógica espacial é pouco mais do que “pilhas de fragmentos”. [9]
Fronteiras e a evolução do Estado-nação
Os historiadores geralmente concordam que o Estado-nação, tal como o definimos, não tem mais do que três ou quatro séculos. O Tratado de Vestfália (na verdade, um conjunto de tratados relacionados), assinado no final da Guerra dos Trinta Anos, em 1648, é frequentemente identificado como a “certidão de nascimento” do Estado moderno. Ele definiu o significado de soberania como um poder exclusivo sobre terras e povos dentro de fronteiras reconhecidas e respeitadas por outros soberanos. A palavra-chave é exclusivo : outras potências não deveriam ter qualquer jurisdição ou autoridade dentro dessas fronteiras. Isso geralmente significava o papado, mas os tratados estenderam a ideia a todas as potências externas. A soberania de todos os Estados deveria ser considerada igual, independentemente do tamanho; todos deveriam abster-se de intervir em outros Estados; e cada Estado deveria determinar suas próprias leis e forma de governo. [10] Esses princípios são claramente explicados e defendidos pelo filósofo de Harvard, John Rawls, em A Lei dos Povos (1999). [11] Rawls está firmemente inserido na tradição liberal clássica, baseando-se em John Stuart Mill e nas definições padrão de direitos humanos e justiça. Thomas Hobbes, escrevendo aproximadamente na mesma época que Vestfália (embora em um contexto diferente, o da guerra civil inglesa), ajudou a cristalizar o Estado moderno com sua definição amplamente aceita de soberania, embora tenha ficado um tanto consternado ao observar que
Reis e pessoas de autoridade soberana, por causa de sua independência, estão em constantes ciúmes e no estado e postura de gladiadores, com suas armas apontadas e seus olhos fixos uns nos outros, isto é, em seus fortes, guarnições e armas, nas fronteiras de seus reinos, e espiões contínuos sobre seus vizinhos: o que é uma postura de guerra. [12]
As novas tecnologias surgidas da Revolução Científica do final do século XVII foram instrumentais na consolidação do Estado moderno. A imprensa já existia, mas depois de Vestfália, ela forneceu a propaganda e os materiais educativos necessários para persuadir as pessoas – cuja lealdade até então era aos seus governantes, não aos seus países – das vantagens da soberania estatal. Mais tarde, os avanços nas comunicações e nos transportes facilitaram o controle das pessoas e dos recursos contidos pelas fronteiras. [13]
A questão da lealdade nacional pode parecer um detalhe secundário aqui, mas, na verdade, é crucial: a lealdade, no sentido moderno e ocidental do termo, exige que sejamos leais ou obedientes a uma autoridade que está inequivocamente contida dentro de fronteiras precisas. Se, por exemplo, eu estiver vivendo no século XIV e tiver jurado lealdade ao rei da Inglaterra, pouco importa o que seja a “Inglaterra”, ou se suas fronteiras mudam com o tempo. A Revolução de Vestfália exigiu que o soberano a quem devo lealdade fosse equiparado ao Estado; aliás, “Inglaterra” foi por vezes usada poeticamente nos séculos imediatamente anteriores e posteriores à Vestfália como uma metonímia para “o monarca”. Os filósofos, com exceção de Josiah Royce, ignoraram em grande parte essa questão da lealdade ou da fidelidade. Para um anarquista, seria aceitável definir lealdade como “a identificação dos próprios interesses com os de um grupo” [14] , mas o Estado-nação moderno exige que sejamos leais a uma abstração, uma personificação do grupo humano como uma entidade concreta com fronteiras geográficas definidas. Se somos leais a uma abstração, o que isso realmente significa é que somos leais e obedientes aos ditames de qualquer pessoa ou grupo que governe essa abstração, na crença equivocada (equivocada, mas insistida por esses governantes) de que esses governantes são a abstração em questão. Como anarquistas, podemos certamente ser leais a outras pessoas, a grupos, à sociedade como um todo, sem lhes renunciar à nossa autonomia. Mas certamente renunciamos a essa autonomia a uma abstração como o Estado (ou a Igreja, ou o Exército, ou mesmo o time esportivo local) quando aceitamos a noção de que ele é mais do que a soma de suas partes. E o que poderia ser mais servil do que conceder o direito de uma abstração de traçar linhas de fronteira pelo planeta, separando-nos arbitrariamente de outros seres humanos?
Os Estados Unidos foram pioneiros na ideia da fronteira geométrica em linha reta, baseada em técnicas de levantamento topográfico que (curiosamente, se pararmos para pensar) utilizam o magnetismo e a posição das estrelas em vez da topografia real do terreno ou de considerações étnicas. Esse hábito já existia antes mesmo da Revolução Americana, quando os proprietários de Maryland e Pensilvânia contrataram os astrônomos Charles Mason e Jeremiah Dixon para descobrir a fronteira exata entre suas colônias. A Lei de Terras de 1785 detalhou um método para o levantamento topográfico do Território do Noroeste, “prestando a máxima atenção à variação da agulha magnética”, começando no que hoje é a divisa entre os estados de Ohio e Pensilvânia.
A primeira linha, que corre de norte a sul, como mencionado anteriormente, começará no rio Ohio, em um ponto que se encontra exatamente ao norte da extremidade oeste de uma linha que foi traçada como a fronteira sul do estado da Pensilvânia [isto é, a linha Mason-Dixon]; e a primeira linha, que corre de leste a oeste, começará no mesmo ponto e se estenderá por todo o território.
A Portaria define o que ficou conhecido como sistema de municípios e faixas, que acabou se estendendo até o Pacífico, estabelecendo uma grade precisa por todos os Estados Unidos, ignorando o terreno natural e, principalmente, as reivindicações dos povos que já viviam ali. Mesmo as reservas indígenas atuais são definidas por linhas geométricas retas.
A Europa não demorou a adotar a ideia. A destruição de bairros medievais de Paris pelo Barão Haussmann para criar os belos bulevares retilíneos de hoje é bem conhecida. Mark Twain, em sua primeira visita, logo percebeu o motivo:
Mas eles não construirão mais barricadas, não esmagarão mais cabeças de soldados com pedras de calçamento. Luís Napoleão cuidou de tudo isso. Ele está aniquilando as ruas tortuosas e construindo em seu lugar bulevares nobres, retos como uma flecha — avenidas que uma bala de canhão poderia atravessar de ponta a ponta sem encontrar um obstáculo mais irresistível do que a carne e os ossos dos homens — bulevares cujos edifícios imponentes jamais oferecerão refúgios e locais de conspiração para revolucionários famintos e descontentes. Cinco dessas grandes vias irradiam de um amplo centro — um centro extremamente bem adaptado para acomodar artilharia pesada. As multidões costumavam se amotinar ali, mas terão que procurar outro local de concentração no futuro. [15]
Quando as potências imperiais europeias decidiram esclarecer suas reivindicações africanas concorrentes em Berlim, em 1884, um modelo semelhante foi imposto naquele continente. Novas e exatas fronteiras foram traçadas, ignorando completamente as realidades étnicas e geográficas, e a maioria dessas fronteiras persiste até hoje: uma das causas mais fundamentais dos sofrimentos da África. Escusado será dizer que não havia africanos no congresso de Berlim. Um exemplo basta: a Nigéria, uma construção altamente artificial cujo próprio nome nem sequer é africano, uma das nações mais corruptas da Terra. Cerca de 250 grupos étnicos, muitos deles hostis entre si, foram reunidos em 1914 em uma única entidade política mantida mais ou menos ordenada apenas pelo poderio militar britânico. A Nigéria possui três nacionalidades muito numerosas (hausa, igbo e iorubá), cada uma das quais provavelmente poderia prosperar como estados independentes; de fato, os igbos tentaram isso em 1967, resultando na guerra genocida de Biafra. Outros seis grupos são mais populosos do que muitos países europeus. Mas a comunidade internacional, assim como a própria União Africana, está comprometida, quase que inconscientemente, com a manutenção de fronteiras estabelecidas há muito tempo por não africanos que certamente não tinham os interesses dos povos indígenas em mente. A justificativa é que qualquer mudança agora só geraria reivindicações rivais e violência. Possivelmente verdade; mas será que a situação atual é melhor?
A Primeira Guerra Mundial nos apresenta um enigma fronteiriço paradigmático. Suas causas foram, naturalmente, múltiplas, mas no cerne do equilíbrio de poder europeu idealizado por Metternich estava a perpetuação de fronteiras que faziam sentido política ou dinástica, mas enfaticamente não etnicamente. O Império Alemão fora formado por muitos pequenos estados que frequentemente tinham pouco em comum além do idioma, mas representava um contrapeso à França; a fronteira entre os dois era disputada desde o Tratado de Verdun, em 814, e estava irremediavelmente entrelaçada com pessoas que tinham sobrenomes franceses, mas falavam alemão, e vice-versa. A monarquia austro-húngara era uma enorme coleção de minorias étnicas, amalgamadas involuntariamente ao longo dos séculos por meio de casamentos judiciosos entre os Habsburgos e pela anexação de partes do Império Otomano à medida que este se desintegrava. A Rússia conseguiu controlar suas numerosas minorias apenas por meio de uma política coercitiva de russificação – uma política continuada pelos soviéticos e que fracassou espetacularmente em 1990. A Polônia, uma nação orgulhosa com uma longa história, já não existia quando a guerra começou, tendo sido dividida por seus vizinhos em 1795. E assim por diante. Woodrow Wilson e sua equipe em Versalhes fizeram o possível para traçar as fronteiras dos novos estados com base em critérios étnicos, mas posteriormente admitiram o fracasso, citando a natureza extremamente complexa da tarefa, tanto no tempo quanto no espaço geográfico. Eles também cometeram alguns erros terríveis que apenas agravaram o problema, como a criação da Iugoslávia. Acordos subsequentes tentaram, com sucesso variável, remediar esses erros. Veja, por exemplo, o acordo da Bósnia de 1995, que criou um estranho estado híbrido: a fronteira “nacional”, que remonta à anexação austríaca em 1878, foi preservada. Mas, dentro desse território, temos agora enclaves sérvios e croatas semiautônomos e instáveis, quando teria sido mais sensato incorporar esses enclaves à Sérvia e à Croácia.
O Tratado de Versalhes foi intensamente contestado no Senado dos EUA e, no fim, rejeitado, embora por razões que nada tinham a ver com fronteiras. Elihu Root, ex-secretário de Estado e então senador, identificou uma questão crucial: a nova Liga das Nações iria cristalizar as fronteiras que estava criando? Root se opôs ao Artigo X proposto, que obrigava os membros a “respeitar e preservar, contra agressões externas, a integridade territorial e a independência política de todos os membros da Liga”. Tal compromisso, argumentou ele,
preservar para sempre inalterada a distribuição de poder e território feita de acordo com as visões e exigências dos Aliados nesta conjuntura atual. Seria necessariamente inútil. Seria o que foi tentado pela Paz de Vestfália no final da Guerra dos Trinta Anos, pelo Congresso de Viena no final das Guerras Napoleônicas, pelo Congresso de Berlim em 1878. Não seria apenas inútil; seria prejudicial. Mudança e crescimento são a lei da vida, e nenhuma geração pode impor sua vontade em relação ao crescimento das nações e à distribuição de poder às gerações seguintes. [16]
Ele prosseguiu dando exemplos da situação instável das nacionalidades étnicas na Europa e sugeriu um prazo limite para a garantia. Embora a ideia tenha sido ignorada pelos diplomatas, e embora um prazo específico simplesmente reformulasse o problema, isso indica que pelo menos alguns políticos estavam adotando o que hoje poderíamos chamar de uma visão pós-vestfaliana das fronteiras.
Nas últimas décadas, alguns filósofos e políticos de esquerda começaram a considerar o sistema de Vestfália obsoleto, ou pelo menos desgastado. Ficou evidente desde o início que o princípio da soberania fomentava a rivalidade e a inimizade entre os Estados, em vez da harmonia e do respeito mútuo. As guerras continuaram sem cessar e as intervenções até aumentaram – desde a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes sem qualquer sanção legal ou declaração de guerra. As Nações Unidas – que, reconhecidamente, fizeram algum bem ao mundo – concedem um voto a cada Estado-membro. Representam governos, não pessoas, uma falha que sem dúvida se revelará fatal no futuro. Na Europa, os signatários do Acordo de Schengen tornaram as fronteiras irrelevantes. Ainda é possível vê-las no mapa, mas no mundo real são marcadas apenas por cabines alfandegárias abandonadas, que estão sendo gradualmente demolidas ou, melhor ainda, vandalizadas. A globalização impulsionada pelo capitalismo tornou as corporações mais poderosas do que os Estados soberanos, e o marxismo sempre se opôs (pelo menos em teoria) ao sistema de Vestfália. Marx argumentou que, como o principal objetivo do Estado-nação é proteger os interesses da classe dominante, a abolição das classes tornaria o Estado supérfluo.
A ascensão de partidos políticos verdes e de projetos de descentralização na Europa acelerou a mudança na percepção de Estados e fronteiras. Joschka Fischer, político verde alemão, defendeu o desmantelamento de instituições soberanas enquanto a Europa caminha às apalpadelas rumo a uma ordem pós-Vestfália. Embora Fischer tenha abandonado as raízes anarquistas dos Verdes há muito tempo, o fato de ter alcançado o ápice da política alemã como ministro das Relações Exteriores (1998-2005) talvez seja um sinal precoce de uma mudança tectônica.
E isso nos leva de volta ao anarquismo: sempre oposto ao Estado-nação por princípio, ele nunca examinou de fato a natureza das fronteiras que contêm o Estado-nação, nem formulou uma resposta coerente ao conceito.
Em direção a uma teoria anarquista das fronteiras.
Os anarquistas “clássicos” – Bakunin, Godwin, Malatesta e outros – não se preocupavam muito com a íntima ligação entre anarquismo e geografia. Peter Kropotkin e Élisée Reclus foram as grandes exceções e são hoje considerados, com razão, os precursores de um anarquismo pós-moderno com base ecológica. [17] Ambos procuraram fundamentar o anarquismo cientificamente e ambos reconheceram – uma noção radical na época! – que a sociedade humana não está separada, mas intimamente ligada à vida de todas as outras espécies e à lenta, porém inexorável, evolução do planeta. Ambos compreenderam que a teoria revolucionária de Darwin havia sido sequestrada pelo (na falta de uma palavra melhor) establishment. Sim, escreveu Reclus, a força faz o direito: mas
Quando os miseráveis e deserdados da terra se unirem em seu próprio interesse, comércio com comércio, nação com nação, raça com raça; quando despertarem plenamente para seus sofrimentos e seu propósito, não duvidem que certamente surgirá uma ocasião para o emprego de sua força a serviço da justiça; e por mais poderoso que seja o Senhor daqueles dias, ele será fraco diante das massas famintas unidas contra ele. À grande evolução que agora ocorre sucederá a tão esperada grande revolução. [18]
O absurdo das fronteiras políticas da Europa era um dos alvos prediletos de Reclus. Ele considerava a geografia tanto sincrônica quanto diacrônica: as relações entre as pessoas, e entre as pessoas e seus ambientes, mudam constantemente no espaço e no tempo. Fronteiras precisas, portanto, tornam-se obsoletas quase que imediatamente após serem traçadas. Reclus descreve a sociedade humana em termos que prenunciam a moderna teoria dos sistemas: o equilíbrio social é dinâmico, mantido pela reciprocidade entre as necessidades da sociedade e a iniciativa individual. A sociedade é um “sistema aberto” (na terminologia da teoria), e sistemas abertos trocam matéria e energia com seu ambiente e com outros sistemas – logo, suas fronteiras são arbitrárias, atribuídas pelo observador por conveniência descritiva. Para Reclus, geografia significava geografia humana, e sociedade humana significava evolução rumo à revolução.
Reclus era inevitavelmente amigo de Peter Kropotkin: eles compartilhavam os mesmos interesses políticos e científicos. O Estado, sugeriu Kropotkin, busca dissolver ou sobrepor-se a todas as formas de organização social, de modo que cada indivíduo isolado esteja conectado a outros indivíduos apenas por meio da lealdade à autoridade soberana. Associações voluntárias são toleradas apenas enquanto apoiarem a missão do Estado, ou pelo menos não entrarem em conflito com ela – como disse Bodin, não deve haver império no império . Esse projeto centralizador está fadado ao fracasso, pois a sociedade precede a individualidade: a natureza humana é social e cooperativa, e a competitividade imposta pelo Estado é antinatural. Não é coincidência, segundo Kropotkin, que a sociedade humana simbiótica tenha atingido seu ápice na cidade medieval autônoma, pouco antes da imposição da ordem de Vestfália. A cidade medieval não se preocupava com fronteiras; prosperava com a troca de bens e serviços em redes dinâmicas. Na maioria das vezes, a cidade era murada: isso naturalmente significava fronteiras muito claras; Mas os muros tinham o propósito de manter os inimigos da liberdade afastados, não de aprisionar os habitantes. Estes consideravam sua cidade uma comuna – era propriedade comum – do latim *communis* , palavra que pode ser traduzida como “compartilhar”. A raiz indo-europeia é * mei- “, que gera uma família de palavras referentes a trocas: permear, transmutar, mútuo, municipal, remunerar; mas também ameba (uma criatura sem limites fixos) e loucura (um estado em que as fronteiras sociais usuais são transgredidas). Em O Estado: Seu Papel Histórico , Kropotkin se esforça para distinguir “o Estado” da sociedade e do governo (o itálico está no original):
A ideia de Estado… não inclui apenas a existência de um poder situado acima da sociedade, mas também de uma concentração territorial , bem como a concentração nas mãos de poucos de muitas funções na vida das sociedades . Implica algumas novas relações entre os membros da sociedade que não existiam antes da formação do Estado. Todo um mecanismo de legislação e de policiamento tem de ser desenvolvido para submeter algumas classes à dominação de outras. [19]
Ele prossegue apontando que as guildas medievais, e organizações correspondentes em outras culturas, “se estendem além dos limites da aldeia; elas se espalham por todo o deserto e chegam a cidades estrangeiras”; mas que alguns desses grupos inevitavelmente buscam dominar os outros, e assim o Estado soberano se desenvolve. (Kropotkin nunca nega que os seres humanos podem ser competitivos, assim como cooperativos.) Por um tempo, os reis e príncipes toleraram essas comunas livres, porque era vantajoso fazê-lo. Às vezes, as cidades precisavam lutar por sua independência, chegando a contratar um senhor feudal para usar suas tropas contra outro.
Na comuna, a luta era pela conquista e defesa da liberdade do indivíduo, pelo princípio federativo do direito de unir e agir; enquanto as guerras dos Estados tinham como objetivo a destruição dessas liberdades, a submissão do indivíduo, a aniquilação do contrato livre e a união dos homens numa escravidão universal ao rei, ao juiz e ao sacerdote — ao Estado. [20]
O sistema de Vestfália teve que incorporar e subjugar essas cidades ao Estado; e Kropotkin não deixa de observar que o controle estatal da educação vem nos mostrando, desde então, que a subjugação foi natural e necessária, um passo adiante na evolução da sociedade humana.
Como todos sabemos, Kropotkin foi o mais importante dos anarquistas “clássicos” para o movimento anarquista contemporâneo, permeado pela ecologia, em grande parte graças a Murray Bookchin. Este que é considerado o maior pensador anarquista do século XX pouco ou nada tem a dizer sobre fronteiras em si, mas seu apelo para desmantelar todas as formas de hierarquia e dominação pressupõe a dissolução de fronteiras artificiais de todos os tipos. Como demonstra John Clark, sua filosofia de ecologia social é totalmente consonante com o biorregionalismo, embora Bookchin tenha escrito muito pouco sobre o assunto. “Existem dois princípios fundamentais da ecologia social que definem essencialmente uma perspectiva biorregional”, escreve Clark. “Um é o reconhecimento da dialética entre natureza e cultura, na qual o mundo natural em sua totalidade é visto como um participante ativo nas atividades criativas dos seres humanos. O outro é o princípio da unidade na diversidade, no qual a particularidade única e determinada de cada parte é vista como uma contribuição essencial para o desenvolvimento do todo.” [21] É claro que Bookchin sempre se opôs veementemente à ecologia profunda, que não discorda desses princípios, mas os leva adiante, para o âmbito de uma reformulação radical da cultura e da sociedade humanas. Sua principal preocupação era que o tipo de mundo desejado pelos ecologistas profundos desalojaria os seres humanos do centro da sociedade humana. Embora compreendesse melhor do que ninguém a necessidade de o anarquismo ser ecológico, Bookchin estava mais interessado na transformação da cidade, em sua integração com o campo e, no final da vida, preferia se autodenominar um “libertário municipal” em vez de anarquista. Ainda assim, toda a sua obra implica consistentemente uma rejeição de todas as fronteiras artificiais e/ou permanentes como restrições à liberdade do indivíduo e à evolução natural da sociedade.
Alguns pensadores anarquistas também exploraram as implicações da lógica espacial e da teoria social espacial para a filosofia anarquista. Shaun Huston aplica os modelos de distanciamento espaço-temporal de Anthony Giddens e de compressão espaço-temporal de David Harvey à obra de Kropotkin e Reclus, concluindo que o controle dos espaços sociais pela classe dominante auxilia a centralização do poder e a fragmentação da solidariedade grupal. O argumento de Huston é que a redução do espaço social nos últimos séculos (a progressão das viagens a cavalo para os aviões a jato, por exemplo) é vivenciada de maneiras muito diferentes por diferentes classes sociais, contribuindo para o tipo de atomização social que um Estado-nação centralizado exige de seus súditos. [22] Embora as explorações nessa direção tenham considerado as fronteiras apenas indiretamente, elas reforçam a interpenetração crescente entre anarquismo e ecologia.
Como, então, os anarquistas devem responder às fronteiras e territórios, na prática e na teoria? O anarquismo almeja um mundo em que nenhum dos dois exista, ao menos em sua forma política. Mas a fronteira do indivíduo é anterior e mais fundamental, e é por aí que devemos começar. As filosofias radicais há muito se interessam em descrever o que significa ser um indivíduo. Como escreveu John Clark, “…tem havido uma tendência no pensamento anarquista holístico recente de usar explicitamente o termo ‘indivíduo’ para se referir àquele eu degradado, fabricado ao longo da longa história da dominação social e finalmente aperfeiçoado na sociedade capitalista, estatista e tecnoburocrática moderna.” [23] Várias alternativas foram oferecidas, notadamente a “Autorrealização” de Arne Næss, com A maiúsculo. Baseando-se em fontes tão variadas quanto Spinoza, William James, Gandhi e Erich Fromm – e ao mesmo tempo observando que a filosofia ocidental nunca conseguiu chegar a uma definição universalmente aceitável do “eu” – Næss sugere que “a máxima da ecologia de que ‘tudo está interligado’ se aplica ao eu e à sua relação com outros seres vivos, ecossistemas, a ecosfera e a Terra com sua longa história”. Ele acrescenta: “A natureza humana é tal que, com maturidade suficiente em todos os aspectos, não podemos evitar nos ‘identificar’ com todos os seres vivos, belos ou feios, grandes ou pequenos, sencientes ou não”. Por “todos os aspectos”, ele quer dizer “em todas as relações principais”, isto é, levando em consideração nosso lugar na ecosfera global. [24] A teoria geral dos sistemas ajuda a esclarecer essa abordagem com sua descrição da “vida” como um complexo de sistemas autopoiéticos que trocam constantemente matéria e energia entre si. Além disso, a ciência demonstrou agora que mesmo uma definição tão ampla não é suficiente para a ‘vida’: “A natureza não estabelece limites entre a vida e a não-vida. O que escolhemos chamar de vida é assunto nosso.” [25]
Como é sabido, as filosofias de Næss e dos ecologistas profundos se sobrepõem consideravelmente às religiões orientais, em particular ao budismo zen e ao taoísmo (que, aliás, se sobrepõem entre si). Será que os povos não ocidentais percebem um universo contínuo, sem energia ou matéria, mudança ou permanência, ou mesmo sem qualquer noção de existência ou de algo? Nossa primeira reação é dizer que não, claro que não: apesar de suas filosofias não dualistas, os budistas zen e os xamãs ameríndios conhecem a diferença entre pensamentos e coisas. Mas será mesmo? Podemos perguntar a eles, é claro; mas esse ato de observação altera os resultados do experimento. E, em todo caso, o mundo moderno está tão impregnado pela civilização ocidental que ninguém no planeta pode estar completamente livre de sua influência dualista. Como os caribes teriam explicado o problema mente/corpo antes de Colombo os “descobrir”? Não temos como saber, nem mesmo em teoria.
Ao longo da história, a maioria das culturas utilizou algum tipo de geomancia para determinar a localização de estruturas construídas pelo homem. Geralmente, senão sempre, o objetivo é aproveitar limites naturais ou forças imperceptíveis para proteger ou maximizar a eficiência dessas forças e/ou evitar cruzar limites que não deveriam ser cruzados. As evidências podem ser encontradas em todo o mundo: as Linhas de Nazca, o alinhamento preciso das Pirâmides, as linhas ley (se existirem) da Grã-Bretanha, as configurações astronômicas das estruturas dos Construtores de Montículos em Ohio, as trilhas de canções australianas, e assim por diante. Na maioria dos casos, não compreendemos a filosofia por trás desses padrões, embora seja possível fazer suposições inteligentes (assim como muitas suposições sem fundamento e até mesmo absurdas). Se elas têm alguma conexão com fenômenos cientificamente comprovados, como correntes telúricas ou o campo magnético da Terra, é uma questão em aberto. Por outro lado, sabemos muito sobre alguns desses sistemas geomânticos.
O feng shui (literalmente, “vento-água”) foi banalizado e reduzido a uma estratégia para organizar camas, mesas e diversos objetos de consumo em padrões que supostamente melhoram a saúde mental e física dos proprietários desses bens. Sua história real é mais interessante. Há seis mil anos, na China, edifícios importantes, ruas e túmulos eram alinhados de acordo com as estrelas, o sol e a lua. Com o tempo, manuais, instrumentos simples e, eventualmente, bússolas magnéticas foram desenvolvidos para auxiliar no planejamento do feng shui . A ideia por trás do sistema é que padrões de energia ( qi , 气) vertiginosamente complexos percorrem a superfície da Terra e que a saúde e a prosperidade humanas podem ser aprimoradas se casas, cidades e similares forem situadas em consonância com esses padrões, em vez de em conflito com eles. A mesma ideia fundamenta a acupuntura e o tai chi . Se o feng shui tem validade científica ou é um disparate supersticioso é irrelevante aqui: estamos falando de limites e das maneiras pelas quais as pessoas decidiram como ou se deveriam traçá-los. O Feng Shui foi concebido como um método de viver em harmonia com os contornos naturais do planeta – seus cursos d’água, ecossistemas, cadeias de montanhas – e certamente faz mais sentido do que a imposição de padrões de grade em uma realidade irregular e sinuosa.
Todas as filosofias ecológicas e anarquistas reconhecem que as fronteiras artificiais são um obstáculo para sociedades sustentáveis e democráticas. O escritor biorregional Doug Aberley sugere que, ao tentarmos traçar fronteiras, podemos razoavelmente começar com o clima, o terreno, as áreas de distribuição natural de plantas e animais, e assim por diante; mas “as fronteiras finais de uma biorregião são melhor descritas pelas pessoas que viveram nela, através do reconhecimento humano das realidades de viver no local”. [26] Inevitavelmente, qualquer abordagem desse tipo implica em descentralização, a fragmentação de grandes estados em estados menores – uma tendência que começou no Ocidente com o Tratado de Versalhes e continua até hoje – Montenegro e o Sudão do Sul são os exemplos mais recentes.
Para os nossos propósitos anarquistas, a abordagem biorregional provavelmente faz mais sentido, pelo menos para começar. Ela também tem a vantagem de ser consonante com a teoria geral dos sistemas, como Reclus observou mesmo antes da invenção dessa disciplina. Certamente, os pensadores biorregionais refletiram mais sobre a questão do que a maioria de nós. O biorregionalismo começa, mas não termina, com os limites indistintos das bacias hidrográficas, as diferenças de solo e clima e as linhas costeiras. As bacias hidrográficas são agora razoavelmente bem definidas por agências ambientais governamentais (o que por si só já deveria nos deixar desconfiados), mas em um nível microscópico, elas variam com a pluviosidade e a época do ano, e sobretudo com os usos que os seres humanos fazem da água. Transformá-las em fronteiras políticas, como alguns biorregionalistas fariam, é simplesmente substituir uma linha arbitrária por outra. O biorregionalismo genuíno não se trata de definir fronteiras, mas sim de definir grupos de pessoas que têm necessidades e interesses básicos em comum. Portanto, estamos falando de cultura como algo condicionado pelo ambiente, uma interação dinâmica de condições que desafia qualquer tentativa de estabelecer fronteiras estáticas ou mesmo definições estáticas. A maioria dos biorregionalistas parece incapaz de falar sobre o que é uma biorregião sem fazer algumas afirmações bastante explícitas sobre seus limites. Gene Marshall: “Minha biorregião local é uma coleção de comunidades dentro de alguns limites significativos determinados por fatores como topografia básica do terreno, bacias hidrográficas, habitats de flora e fauna, altitudes, pluviosidade, temperaturas e outros fatores semelhantes.” [27] Kirkpatrick Sale se sai um pouco melhor: uma biorregião é “um lugar definido por suas formas de vida, sua topografia e sua biota, em vez de por imposições humanas, uma região governada pela natureza, não pela legislação.” [28] Tyler Volk se sai ainda melhor, embora esteja escrevendo sobre ecossistemas, não biorregiões: os ecossistemas não têm ‘limites’; “em vez disso, como a coesão omnidistributiva de uma nuvem ou rocha, todas as teias alimentares e ciclos de nutrientes servem como barreira — um baluarte disperso entre todas as partes e, portanto, bastante casual.” [29] Thomas Berry tenta deixar as fronteiras de fora da equação: “A Terra apresenta-se a nós não como uma realidade global uniforme, mas como um complexo de regiões altamente diferenciadas, imersas na unidade abrangente do próprio planeta.” [30] É claro que os biorregionalistas, em sua maioria, não são anarquistas – eles não esperam ir além do ponto de equiparar fronteiras políticas a fronteiras ecológicas. Ainda assim, o projeto biorregional caminha em uma direção anarquista. Em quase todos os casos, as biorregiões são menores que os Estados-nação; o poder político é descentralizado e investido na comunidade local.
O anarquismo e o biorregionalismo podem aprender muito um com o outro, e ambos se beneficiarão de melhores definições de conceitos-chave que compartilham. A natureza das entidades geopolíticas e suas fronteiras é apenas um exemplo. Ao mesmo tempo, ambos precisam evitar romantizar seus objetivos – uma armadilha na qual é fácil cair, graças à ecologia profunda e a várias “filosofias” da Nova Era. Gaia, por mais objetivamente verificável que seja, não é uma deusa; a Natureza não é uma catedral, nem um substituto para as igrejas e templos destruidores da vida que a maioria de nós abandonou. Além disso, precisamos ter em mente que temos o tempo livre e os recursos para perseguir nossos objetivos apenas por causa da vasta expansão, nos últimos dois séculos, da mesma economia devoradora da Terra que estamos determinados a desmantelar. Precisamos ter cuidado ao desvendar as fronteiras.
Thomas Martin contribui regularmente para a revista Social Anarchism. Ele leciona e subverte o paradigma dominante no Sinclair Community College, em Dayton.
[1] As citações e referências nestes primeiros parágrafos foram retiradas de um excelente artigo de Achille Varzi na Stanford Encyclopedia of Philosophy online, plato.stanford.edu/entries/boundary/. As citações são de Os Elementos de Euclides , Livro I, Definições 1–3, 5–6, 13; Aristóteles, Metafísica 1022a; e Leonardo da Vinci, Cadernos , Edward Maccurdy, ed. (Londres: Jonathan Cape, 1938), 75–76.
[2] Indo-europeu *ters , seco, como em ‘terra seca’. O asterisco convencionalmente usado com raízes IE indica que são reconstruções hipotéticas; o IE nunca foi uma língua escrita.
[3] Tyler Volk, Metapatterns : Através do Espaço, Tempo e Mente (Nova Iorque: Columbia University Press, 1995), 51.
[4] Ariès, Philippe e Georges Duby, eds., Uma História da Vida Privada (Cambridge, MA: Belknap Press da Harvard University Press, 1987), 5 vol.
[5] Colin Tudge, The Time before History: 5 Million Years of Human Impact (Nova Iorque: Scribner, 1996), 264ff.
[6] Freya Mathews, “A alma das coisas”, Terra Nova , vol. 1, nº 4 (outono de 1996), 59.
[7] Robert Sack, Territorialidade Humana: Sua Teoria e História (Cambridge University Press, 1986), 1–2.
[8] ibid., 93.
[9] Fredric Jameson, Pós-modernismo, ou A lógica cultural do capitalismo tardio (Durham: Duke University Press, 1991), 25.
[10] Esta interpretação foi questionada por alguns historiadores revisionistas, que apontam que a palavra “soberania” não ocorre nos tratados e que o Sacro Império Romano ainda mantinha alguma soberania judicial sobre os seus estados constituintes.
[11] John Rawls, A lei dos povos (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
[12] Thomas Hobbes, Leviatã ( Cambridge, MA: Harvard Classics, 1909–1914), , XIII:12.
[13] Martin van Creveld, citado no The Brussels Journal em maio de 2006, em www.brusselsjournal.com/node/1101
[14] Herbert Aaron Bloch, The Concept of Our Changing Loyalties (Nova Iorque, 1944), 36.
[15] Mark Twain, Inocentes no Exterior , XVI.
[16] Carta do Honorável Elihu Root ao Senador Henry Cabot Lodge, 29 de março de 1919, no Documento do Senado 41, 66º Congresso , 1ª sessão (1919).
[17] Graham Purchase explorou esta primeira fase do ecoanarquismo em Anarquismo e Ecologia (Montreal: Black Rose, 1997).
[18] Élisée Reclus, Evolução e Revolução , Londres: W. Reeves (1891), Sétima Edição.
[19] Peter Kropotkin, “O Estado: Seu Papel Histórico”, Londres: Freedom Press, 1946, originalmente publicado em 1897, Seção I.
[20] ibid., Seção V.
[21] John Clark, “Municipal Dreams: A Social Ecological Critique of Bookchin’s Politics” (4), em raforum.info
[22] Shaun Huston, “Kropotkin and Spatial Social Theory: Unfolding an Anarchist Contribution,” Anarchist Studies , vol. 5, no. 2 (October 1997), 109–130.
[23] John Clark, “O Tao da Anarquia”, Fifth Estate , Verão de 1998.
[24] Arne Næss, “Uma abordagem ecológica ao estar no mundo”, Quarta Palestra Memorial Keith Roby em Ciência Comunitária , Universidade Murdoch (Austrália), 1986.
[25] David Darling, Zen Physics: The Science of Death, The Logic of Reincarnation (Nova Iorque: HarperCollins, 1996), 12.
[26] Doug Aberley, “Interpreting Bioregionalism: a story from many voices,” in Michael McGinnis, ed., Bioregionalism (London: Routledge, 1999), 23.
[27] Gene Marshall, “Step One: Mapping the Biosphere,” in Doug Aberley, ed., Boundaries of Home: Mapping for Local Empowerment , (Gabriola Island, BC: New Society, 1993), 55.
[28] Kirkpatrick Sale, Dwellers in the Land (San Francisco: Sierra Club Book, 1985), 7.
[29] Tyler Volk, Metapatterns : Através do Espaço, Tempo e Mente (Nova Iorque: Columbia University Press, 1995), 58.
[30] Thomas Berry, Sonho da Terra (São Francisco, Califórnia: Sierra Club Books, 1988), 168.
Título: Formas do Desprezo
Legenda: Uma meditação sobre anarquismo e fronteiras
Autor: Thomas Martin
Tópicos: limites , psicologia
Data: 31 de maio de 2012
Fonte: Anarquismo Social, Edição 45. < www.socialanarchism.org/issue/45/shapes-of-contempt >





