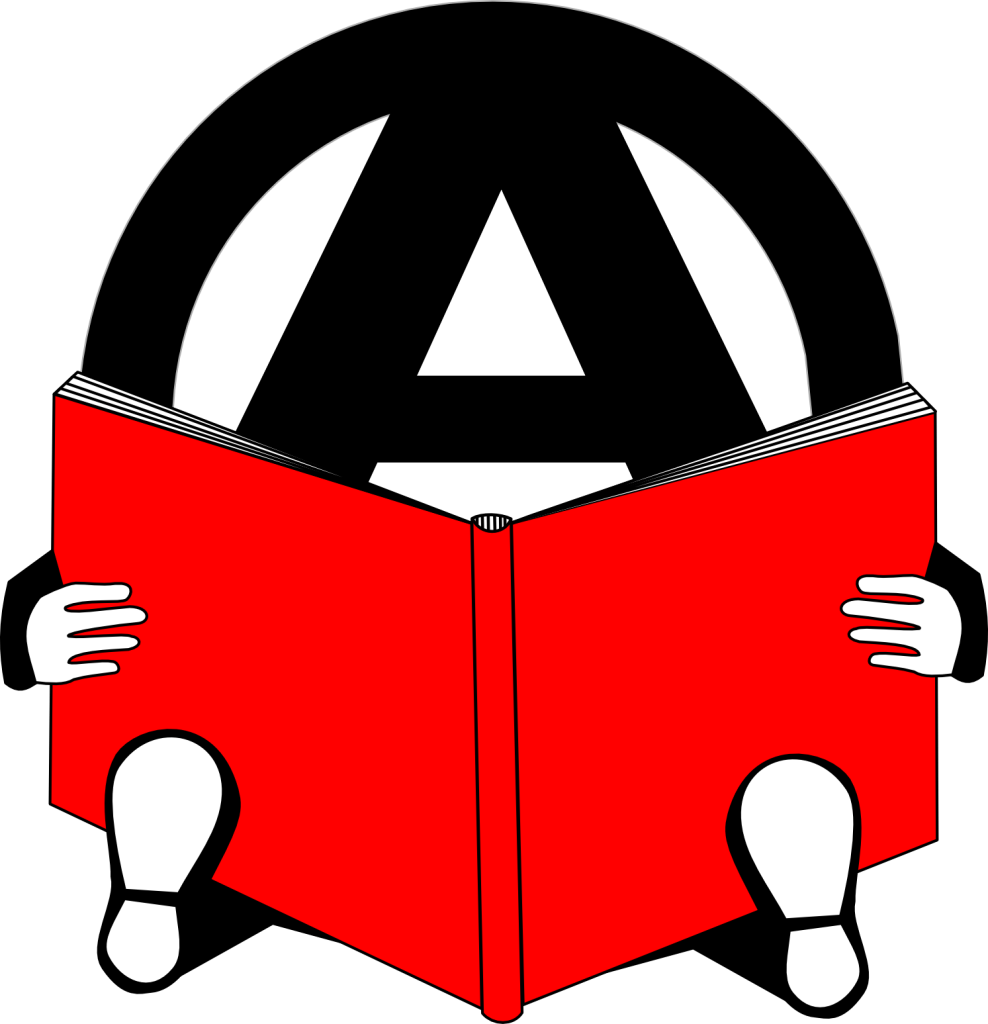
Por KPBSFS
Desde o “Diálogo com um Filisteu”, de Pierre Proudhon, em “O que é a Propriedade”, no qual ele se tornou o primeiro filósofo político a se declarar “(na plena força do termo) um anarquista”, o anarquismo floresceu como uma ideologia autoconsciente e um movimento político que teve uma profunda influência no movimento operário mais amplo e nas lutas de classes dos últimos dois séculos. A teoria anarquista se desenvolveu ao longo do tempo e agora pode ser categorizada e subcategorizada em uma infinidade de variantes teóricas, todas as quais compartilham uma incredulidade comum em relação ao governo central e ao Estado. O anarquismo clássico que inspirou as revoluções anarquistas na Catalunha durante a Guerra Civil Espanhola, bem como o comunismo antiestatista disseminado pelo Exército Negro de Nestor Makhno na Ucrânia após a Revolução Russa, evoluiu rapidamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com mudanças na teoria e na práxis correspondendo diretamente às mudanças na natureza e no ethos do próprio capitalismo, na transformação das relações de poder e na mudança do papel do Estado nos tempos modernos. O discurso anarquista adaptou-se às flutuações do capital global. Desde os estágios iniciais da industrialização e do liberalismo clássico até a social-democracia keynesiana e o neoliberalismo friedmaniano, o anarquismo refinou seus conceitos e métodos e continua a desempenhar um papel crucial nos Novos Movimentos Sociais e nas campanhas políticas extraparlamentares de ação direta da atualidade. O pensamento anarquista pós-1945 foi fortemente influenciado por outras vertentes da filosofia e da crítica social, incluindo o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, o feminismo radical, o ambientalismo e a ecologia, o autonomo, o pós-esquerdismo, o “situacionismo” e o neomarxismo da Escola de Frankfurt, todos os quais têm suas próprias críticas à sociedade burguesa e ajudaram a alterar o foco e a estabelecer novas tendências na teoria anarquista, tornando o anarquismo moderno marcadamente diferente de seu predecessor intelectual clássico.
Para começar a entender a diferença entre o anarquismo clássico e o anarquismo pós-1945, é essencial ter uma visão histórica das origens do pensamento anarquista clássico e das lutas de classes e movimentos operários que foram galvanizados por seus proponentes. O anarquismo clássico emergiu das tradições do pensamento iluminista secular, baseando-se na filosofia política e moral de Jean-Jacques Rousseau e seu forte foco em noções de liberdade, justiça, igualdade e uma visão utópica da “vontade geral” expressa através da soberania das assembleias populares sob democracia direta em vez de representativa. Algumas vertentes da filosofia anarquista pós-1945, sob a influência de pensadores como Michel Foucault, desafiaram a filosofia do Iluminismo e as universalidades e essencialismos que ela suscita, particularmente os princípios essencialistas defendidos por alguns anarquistas clássicos. Assim como acontece hoje, com a grande imprensa despejando fervoroso desdém e condenação sobre as táticas “brutais e irracionais” dos anarquistas do “Black Bloc”, o anarquismo, desde sua criação, tem sido frequentemente descartado como um movimento juvenil e utópico, sinônimo de caos, violência e desordem. Durante a Guerra Civil Inglesa, a palavra “anarquista” foi usada pelos realistas como um termo de escárnio contra os parlamentares do Novo Exército Modelo. Mais de um século depois, o termo foi usado positivamente por enragés e sans-culottes na Revolução Francesa para se distanciarem da centralização de poder pós-revolucionária instituída pelos jacobinos. No entanto, apesar de ter entrado no vernáculo político, o anarquismo ainda não havia emergido como uma ideologia separada e ainda não se definia como uma filosofia política distinta. Peter Kropotkin, em sua entrada na Enciclopédia Britânica para “Anarquismo”, descreve o desenvolvimento histórico e a evolução do pensamento anarquista, remontando-o a 430 a.C. nos escritos de Aristipo, que “ensinou que os sábios não devem abrir mão de sua liberdade em favor do Estado e, em resposta a uma pergunta de Sócrates, afirmou não desejar pertencer nem à classe governante nem à classe governada”. Kropotkin, assim, estabelece um elo histórico e filosófico entre suas próprias contribuições filosóficas e escritos de vários milênios passados, estabelecendo uma grandiosa “metanarrativa” e estrutura ideológica “imersa em séculos de tradição” – posição e armadilha intelectual com as quais os proponentes do anarquismo pós-estruturalista moderno (ou pós-anarquismo) discordariam. Kropotkin também credita a filosofia taoísta oriental, quase religiosa, como um dos primeiros exemplos de ensinamentos inconscientemente anarquistas. Segundo Kropotkin, os primórdios do anarquismo como um ramo autoconsciente da filosofia política residem nas obras de William Godwin, que em sua Investigação sobre a Justiça Política,“foi o primeiro a formular as concepções políticas e econômicas do anarquismo, embora não tenha dado esse nome às ideias desenvolvidas em sua notável obra”. Foi Proudhon quem mais tarde atribuiu o termo “anarquista” às ideias e conceitos defendidos por Godwin, plantando as sementes para o nascimento do movimento de massas e da filosofia política madura.
Os movimentos da classe trabalhadora do século XIXOs movimentos sociais-revolucionários do século XX foram frequentemente dominados por anarquistas, mas seu crescimento foi atrofiado e o apoio diminuiu após a revolução na Rússia, que proporcionou aos revolucionários de esquerda um bastião do “socialismo realmente existente” e do “poder dos trabalhadores”, que tinha o potencial – e a aparência externa – de incorporar fisicamente seus desejos políticos abstratos. O historiador marxista Eric Hobsbawm comenta que, embora “na geração posterior a 1917, o bolchevismo tenha absorvido todas as outras tradições social-revolucionárias, ou as tenha marginalizado dos movimentos radicais… Antes de 1914, o anarquismo havia sido uma ideologia muito mais impulsionadora de ativistas revolucionários do que o marxismo em grandes partes do mundo”. Anarquistas clássicos e revolucionários marxistas nunca se entenderam. Apesar do entusiasmo mútuo pela derrubada do capitalismo e do anseio compartilhado por uma revolta dos trabalhadores, suas divergências residiam em suas diferentes concepções de sociedade após a revolução e em visões amplamente divergentes sobre a melhor forma de realizar essa revolução. Os anarquistas rejeitaram a atividade parlamentar como uma capitulação às instituições políticas burguesas e criticaram duramente a “fase de transição” socialista exposta por Marx, ridicularizando a ingenuidade da afirmação de que o Estado – após um período de governo proletário e a supressão das forças burguesas – simplesmente “definharia”. Os primeiros anos da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) foram caracterizados por lutas internas e divisões entre adeptos do socialismo estatista e facções coletivistas libertárias centradas em Mikhail Bakunin. Os anarquistas se distanciaram das tendências autoritárias do marxismo, opondo-se a qualquer “ditadura do proletariado” centralizada. Os marxistas da Internacional os acusaram de serem “utópicos” e, mais tarde, “individualistas pequeno-burgueses” com “um distúrbio infantil” – iniciando uma divisão entre setores estatistas e não estatistas da esquerda revolucionária que perdura até hoje. Bakunin, uma figura influente na filosofia anarquista clássica, apontou a falácia de qualquer hipotético caminho parlamentar para o socialismo, enfatizando o desprezo das vanguardas lideradas por “minorias pseudorrevolucionárias” e partidos políticos hierarquicamente estruturados que alegam representar os interesses das massas. Ele lançou acusações devastadoras à análise e estratégia marxistas de mudança, escrevendo que, para eles, “somente uma ditadura — a ditadura deles, é claro — pode criar a vontade do povo”, enquanto nossa resposta a isso é: nenhuma ditadura pode ter outro objetivo senão o da autoperpetuação, e só pode gerar escravidão no povo que a tolera; a liberdade só pode ser criada pela liberdade, isto é, por uma rebelião universal por parte do povo e pela livre organização das massas trabalhadoras de baixo para cima”. Mas o anarquismo clássico não existiu apenas como uma crítica negativa ao marxismo, à social-democracia ou ao socialismo de Estado.Os anarquistas afirmavam valores libertários radicais que rejeitavam toda autoridade governamental, clamando pela abolição completa do Estado, de seus braços armados, como a polícia e o exército, e de suas instituições burocráticas centralizadas. O poder seria completamente descentralizado e a soberania absoluta caberia aos conselhos federados de trabalhadores e assembleias de bairro, contornando o poder representativo mediador buscado por partidos de esquerda e direita e instituindo a democracia direta. O abismo intransponível entre o pensamento anarquista clássico e o marxista perdura até os dias atuais, com os anarquistas modernos frequentemente afirmando sua oposição aos atuais partidos trotskistas e stalinistas de estilo antigo da “esquerda revolucionária”, oferecendo uma alternativa de ação direta às suas estratégias político-partidárias, que muitas vezes envolvem uma repetição das antigas táticas leninistas de construção partidária, concentrando-se inteiramente no crescimento quantitativo do número de membros, na venda de jornais ou “órgãos do partido” e em campanhas eleitorais malsucedidas.
A Primeira Internacional foi a primeira manifestação do anarquismo clássico como um movimento social plenamente desenvolvido. Mais tarde, teria profunda influência na Guerra Civil Espanhola, à medida que a base dos sindicatos anarcossindicalistas de estrutura horizontal, a Confederación Nacional del Trabajo (CNT) e a Federación Anarquista Ibérica, assumiam o controle de indústrias, locais de trabalho e da distribuição de bens e serviços em Barcelona e cidades rurais por toda a Espanha, “onde os meios de produção são de propriedade comum e geridos por aqueles que os trabalham, onde todos os que desejam produzir têm livre acesso a eles e onde os meios de produção não são monopolizados nem pelo capitalismo privado nem pelo governo”. A Comuna de Paris de 1871 proporcionou a primeira visão viva de uma democracia participativa e, para Marx, “a forma política finalmente descoberta… para concretizar a emancipação econômica do trabalho” que anarquistas, marxistas e socialistas tentariam apropriar como parte de seus próprios movimentos e histórias, seja como o primeiro exemplo da “ditadura do proletariado”, seja como um arquétipo inicial de uma federação orgânica e espontaneamente organizada de conselhos operários. A Comuna estabeleceu um precedente para todas as revoluções sucessivas, existindo sem uma estrutura de comando de cima para baixo instituída por um partido político e confirmando a hipótese dos anarquistas clássicos de que “fases de transição” e governos revolucionários eram desnecessários e indesejáveis. A Comuna certamente se encaixa mais perfeitamente no paradigma anarquista clássico de mudança social do que no marxista, e Marx posteriormente criticaria a Comuna por sua falta de organização centralizada e recrutamento forçado, o que levou à cisão definitiva entre estatistas e libertários no congresso de Haia da AIT. Os participantes da Comuna agiram independentemente de qualquer instituição estatal burocrática, organizando-se de forma autônoma e dissolvendo imediatamente o aparato estatal existente. A Comuna não entrou em colapso devido às suas próprias contradições internas – como a Revolução Espanhola, foi derrotada por forças reacionárias externas –, mas seu exemplo vivo foi a afirmação dos valores anarquistas clássicos.
Desde o seu início, o movimento anarquista enfrentou intensa perseguição e repressão estatal. Mesmo nos recém-estabelecidos “Estados operários”, os enclaves anarquistas do Território Livre da Ucrânia foram reprimidos pelo Exército Vermelho Bolchevique após 1917. Na Europa Ocidental, uma onda de atentados terroristas e assassinatos, inspirados pela “propaganda da ação” de Bakunin, levou a prisões em massa, à medida que o anarquismo, no final do século XIX e início do século XX, se tornava “o inimigo interno” das democracias burguesas. Ecos dessa repressão no século XXI são óbvios, com governos liberais e autoritários mantendo ativistas sob vigilância constante, coletando informações sobre manifestantes e infiltrando grupos anarquistas com agentes provocadores para reprimir qualquer ameaça séria ao status quo. Em 1894, o anarquista Vaillant explodiu uma bomba na Câmara dos Deputados de Paris. Antes de receber seu veredito, ele fez uma defesa eloquente de suas ações, que mais tarde foi citada por Emma Goldman em sua obra The Psychology of Political Violence : “Senhores, em poucos minutos vocês vão desferir seu golpe, mas ao receber seu veredito terei ao menos a satisfação de ter ferido a sociedade existente… Eu levei esta bomba para aqueles que são os principais responsáveis pela miséria social… Salve aquele que trabalha, não importa quais meios, pela transformação (das sociedades)!” As táticas de terrorismo insurrecionalista realizadas por alguns anarquistas não foram adotadas nem apoiadas pelo movimento de forma homogênea, e alguns as condenaram com o mesmo vigor que as classes dominantes. Anarcopacifistas como Leon Tolstoy foram rápidos em denunciar atos de violência com base no fato de que a própria essência do anarquismo, a abolição da força e da coerção, foi comprometida e contradita por seu uso. Tolstói chegou a rejeitar a ideia de revolução e imaginou o anarquismo como um processo muito mais pessoal de mudança interior e rejuvenescimento moral. “Os anarquistas estão certos em tudo; na negação da ordem existente… Eles se enganam apenas ao pensar que a anarquia pode ser instituída por uma revolução… Só pode haver uma revolução permanente — uma revolução moral: a regeneração do homem interior.” O líder da independência indiana, Mohandas Gandhi, descreveu Tolstói como “o maior apóstolo da não violência que a era atual produziu”, e os escritos de Tolstói teriam, mais tarde, enorme influência em gerações sucessivas de ativistas que adotaram táticas de desobediência civil e resistência não violenta contra o Estado e o capital.
Batalhas ideológicas internas e desacordos sobre táticas e estratégias, incluindo as recorrentes discussões sobre violência, garantiram que o anarquismo pós-1945, tanto quanto o anarquismo clássico, não fosse um movimento coeso e uniforme, mas uma amálgama heterogênea de grupos com visões diferentes sobre como desafiar o capitalismo e construir alternativas viáveis a ele. Os eventos do último século serviram apenas para exacerbar as tensões sectárias e a divisão entre as diversas vertentes anarquistas. O anarquismo clássico de Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin e outros nasceu de uma época de industrialização inicial e capitalismo laissez-faire, e o foco teórico e prático do anarquismo se desenvolveu em concomitância com os desenvolvimentos do capitalismo industrial desde a era do liberalismo econômico inspirado por Adam Smith. A Grande Depressão de 1929 (e alguns dizem que a influência geopolítica da União Soviética) levou à adoção de políticas econômicas social-democratas mais intervencionistas que representavam um compromisso tácito de concessão da burguesia com as demandas do movimento operário. Após a Segunda Guerra Mundial, modelos econômicos keynesianos foram adotados por governos capitalistas liberais-democráticos, já que o “Consenso de Washington” garantia que governos de centro-esquerda e centro-direita forneceriam uma rede mínima de segurança social e um “Estado de bem-estar social” paternalista aos cidadãos devastados pela guerra na Europa e na América do Norte. Com saúde e educação estatais gratuitas, benefícios e seguro-desemprego, juntamente com uma legislação governamental que protegia os direitos sindicais, em uma espécie de compromisso histórico entre trabalho, capital e Estado, o anarquismo começou a perder um pouco de sua relevância nas economias industrializadas, com o único exemplo real e vivo de uma alternativa sendo as burocracias stalinistas do Bloco Oriental. “O movimento anarquista europeu havia se tornado tão fragmentado no final dos anos 1950 e 1960 que os historiadores do anarquismo estavam soando seu toque de finados.” O comunismo, tal como implementado na URSS, tornara-se a ideologia mais popular e atraente para os autoproclamados revolucionários, mas, à medida que as pessoas desfrutavam dos benefícios do boom do pós-guerra nas economias mistas de bem-estar social, bem como nas economias de comando do Leste, a filiação a sindicatos anarcossindicalistas, como os Trabalhadores Industriais do Mundo, despencou e o interesse pelo anarquismo diminuiu. A dialética marxista parecia ter parado – a “empobrecimento do proletariado” causada pela competição capitalista não havia ocorrido, a cataclísmica revolução mundial que tanto anarquistas quanto socialistas esperavam não havia ocorrido e, na verdade, as massas, particularmente no Ocidente, estavam passando por um processo de ” burguesamento” .‘. O anarquista do pós-guerra Murray Bookchin elogia o arquirrival de Marx na Primeira Internacional, Bakunin, por profetizar com precisão essa tendência, já que “ele nunca recebeu o crédito que lhe era devido por prever o aburguesamento da classe trabalhadora industrial com o desenvolvimento da indústria capitalista” e rejeitar a velha ideia do proletariado como a classe mais revolucionária, postulando, em vez disso, que os agitadores revolucionários modernos mais prováveis seriam os ” desclassificados urbanos , os elementos lumpen rurais e urbanos que Marx tanto desprezava” — como também argumentariam pensadores da Nova Esquerda, Marcuse e ícones da revolta dos anos 60. Das profundezas de uma vertente moribunda do pensamento anarquista clássico, com seu foco na organização do local de trabalho e na revolução industrial-proletária, o anarquismo ressurgiu em novas formas que se expressaram na contracultura e nos movimentos juvenis dos anos 60, culminando nas revoltas estudantis de maio de 1968 e inspirando novas ondas de ativistas na segunda metade do século XX.
As descrições emotivas de Kropotkin de trabalhadores “necessitados e famintos” e de “esposas e filhos em farrapos, vivendo sem saber como até o retorno do pai” tiveram menos ressonância em uma era de prosperidade econômica e material, na qual havia ecos de verdade – ainda que tênues – nas proclamações autocongratulatórias dos líderes de que nós – em termos generalizados de riqueza – “nunca estivemos tão bem”. Mas novos padrões na análise anarquista emergiram, expressando uma intensa insatisfação com esse modelo próspero de capitalismo de consumo avançado; a alienação, a frustração, a apatia, a mediação e a separação entre as pessoas, que afirmavam o truísmo de que riqueza material, mercadorias, pleno emprego e PIB alto não eram correlativos à felicidade, liberdade ou bem-estar. A Internacional Situacionista, um coletivo de artistas, cineastas, arquitetos e intelectuais de vanguarda, declarou que, na condição atual do capitalismo tardio, vivemos em “um mundo em que a garantia de que não morreremos de fome acarreta o risco de morrer de tédio”. Os anarquistas e revolucionários clássicos do século XIX subestimaram a capacidade do capitalismo de se adaptar e sobreviver às suas crises cíclicas de superprodução e subconsumo e, presos aos modelos dogmáticos e doutrinários de análise e organização da velha esquerda, lutaram para chegar a novas conclusões sobre a natureza do capitalismo contemporâneo. Os situacionistas desprezaram igualmente os ideólogos de esquerda e as classes burguesas, comentando que “o desastre absoluto da esquerda hoje reside em sua incapacidade de perceber, e muito menos de compreender, a transformação da pobreza, que é a característica básica da vida nos países altamente industrializados”. A pobreza ainda é concebida em termos do proletariado do século XIX – sua luta brutal para sobreviver diante da exposição, da fome e da doença – em vez de em termos da incapacidade de viver, da letargia, do tédio, do isolamento, da angústia e da sensação de completa falta de sentido que estão corroendo como um câncer por todo o século XX .O capitalismo tardio evoluiu para um sistema baseado no consumo espetacular, uma “Sociedade do Espetáculo” na qual cultura, arte e lazer são reduzidos a mercadorias e as pessoas são reduzidas ao papel passivo de espectadores. “Tudo o que era vivido diretamente retrocedeu para a representação”, o consumo disfarçado de participação e alienação, a separação e o tédio generalizado tornaram-se as marcas registradas de uma sociedade na qual as relações entre as pessoas são “mediadas por imagens”. A IS foi influenciada tanto pelas correntes filosóficas nietzschianas e individualistas quanto por Marx e os anarquistas clássicos. Sua retórica mordaz lembrava o estilo provocativo de Nietzsche e sua demanda por uma sociedade de “senhores sem escravos” voltada para a “construção de situações” tinha ecos do egoísmo anarquista de Max Stirner, que recebeu críticas de muitos anarquistas clássicos devido à sua inclinação antissocial, mas ressurgiu nos movimentos anarquistas pós-1945. No entanto, os situacionistas mantiveram elementos sociais e coletivos em seus argumentos, divulgando comunicados que exigiam a ocupação das fábricas e “PODER AOS CONSELHOS DE TRABALHADORES” e, como Bakunin e Goldman antes deles, expressaram seu intenso ódio tanto pelo governo quanto pelas empresas, afirmando que “A humanidade não será feliz até que o último burocrata seja enforcado com as entranhas do último capitalista”. As revoltas de maio de 1968 em Paris foram a expressão máxima das novas ideias anarquistas e situacionistas na prática e simbolizaram uma nova subjetividade radical que rejeitava ativamente as novas formas de dominação e servidão que encapsulam a condição da humanidade na era do capitalismo avançado e permanecem em vigor no capitalismo pós-industrial do século XXI.
Herbert Marcuse e outros neomarxistas da Escola de Frankfurt foram influentes ao fornecer uma crítica contemporânea ao marxismo tradicional, oferecendo uma perspectiva crítica às facetas autoritárias tanto do socialismo quanto da democracia capitalista, e contribuindo com uma análise que revelou os aspectos totalitários das democracias capitalistas modernas, comentando que “a livre eleição de senhores não abole os senhores ou os escravos. A livre escolha entre uma ampla variedade de bens e serviços não significa liberdade se esses bens e serviços sustentarem controles sociais sobre uma vida de trabalho e medo – isto é, se sustentarem a alienação”. Embora não fossem decididamente anarquistas, as teorias de Marcuse exemplificavam uma desconfiança da autoridade e uma perspectiva individualista e libertária que se originava do que Althusser chamaria de “Jovem Marx”, com seu foco humanista na alienação que complementava as tendências do anarquismo do pós-guerra e teve uma influência dramática nas revoltas estudantis e nos movimentos contraculturais da década de 1960, bem como nos ativistas libertários de esquerda até os dias de hoje. Enquanto os anarquistas clássicos tendiam a investir sua fé em uma revolução feita “pelos e para” os proletários, concentrando-se em uma solução permanente para o antagonismo entre trabalho e capital e na emancipação do trabalho como a “grande tarefa do proletariado”, Marcuse e muitos anarquistas modernos rejeitaram essas noções, apontando a natureza socialmente conservadora do proletariado do pós-guerra e sua profunda integração ao sistema capitalista. As classes trabalhadoras haviam sido totalmente absorvidas pelo funcionamento do capitalismo espetacular de mercadorias, e sua existência não era mais antagônica, mas sim complementar ao capital. Distinções de classe difusas e mudanças na dicotomia entre burguês e proletário pacificaram a classe trabalhadora tradicional, produzindo um exército de “corpos dóceis”, para usar o termo de Foucault, cuja (falsa) consciência garantia uma superidentificação com seus senhores e um apoio um tanto contraditório à conservação do status quo. Em sua obra, O Homem Unidimensional,Marcuse descreveu essas vicissitudes: “Se o trabalhador e seu chefe gostam do mesmo programa de televisão e visitam os mesmos lugares turísticos, se a datilógrafa é tão atraente quanto a filha de seu empregador, se o negro possui um Cadillac, se todos leem o mesmo jornal, então essa assimilação indica não o desaparecimento das classes, mas a extensão em que as necessidades e satisfações que servem à preservação do Establishment são compartilhadas pela população subjacente.” Como muitos anarquistas depois de 1945, Marcuse estava expressando o desejo de se afastar do que Murray Bookchin chamou de “O Mito do Proletariado” e adotar uma posição muito mais crítica sobre a essência do proletariado como classe. Em vez de conceder as chamadas noções “revolucionárias” de “consciência de classe” e “unidade de classe” aos trabalhadores, eles reconheceram que é essa identificação com uma classe e uma romantização do trabalho que amarra o proletariado ao sistema que os domina, atribuindo um certo status a estruturas que servem para “disciplinar”, “unir” e “organizar” os trabalhadores, mas… o fazem de uma forma completamente burguesa. O potencial revolucionário do trabalhador só aumenta na medida em que ele se livra de seu “status de classe” e… dos grilhões de classe que o prendem a todas as formas de dominação. Os elementos mais revolucionários da sociedade eram as classes baixas , os lumpen, os delinquentes, aqueles que se recusam a trabalhar e vivem à margem, repudiando a “sociedade respeitável” e recusando as normas sociais, totalmente marginalizados, ignorando principalmente a “política” e rejeitando todas as formas de autoridade, seja a autoridade da família, do chefe ou do policial. Para Bookchin, eram as pessoas que “fumavam maconha, se divertiam no trabalho, entravam e saíam de fábricas, deixavam o cabelo crescer ou quase, exigiam mais tempo livre em vez de mais salário, roubavam, assediavam todas as figuras de autoridade, atacavam os selvagens e se voltavam contra os colegas de trabalho”. Para Marcuse, era “o substrato dos párias e dos outsiders… os desempregados e os desempregados. Eles existem fora do processo democrático… portanto, sua oposição é revolucionária, mesmo que sua consciência não o seja”.
Um ponto essencial de divergência entre a teoria anarquista clássica e a pós-1945 é a refutação do pensamento iluminista por muitas correntes anarquistas modernas. A tradição anarquista clássica nasceu do pensamento iluminista secular, tendo como premissa a perfectibilidade do homem e a crença no “triunfo supremo da Razão, do Progresso e da Ordem”. Isso levou a uma crença quase quase religiosa no “bem” essencial do homem e, posteriormente, a uma ideia subjacente, semiteleológica, de que a humanidade marcharia firmemente pela história, progredindo em direção a um “fim” final – a pós-revolução – no qual o homem teria realizado plenamente suas capacidades “naturais” – que lhe são negadas apenas pelas atuais condições materiais – e teríamos alcançado um patamar histórico caracterizado pela justiça universal, liberdade, igualdade e a perfeição da humanidade. Para os anarquistas clássicos, o Estado é uma abominação imposta artificialmente que degrada os seres humanos naturalmente bons. O Estado e a humanidade são opostos separados, maniqueístas; um essencialmente bom, o outro essencialmente mau. Bakunin afirma que “o Estado é a negação mais flagrante… da humanidade”, enquanto nossa “humanidade” é definida por leis naturais que “são inerentes a nós, constituem nossa natureza, todo o nosso ser física, intelectual e moralmente”. Influenciados pelas rejeições pós-modernas e pós-estruturalistas do pensamento iluminista, particularmente as obras de Foucault, os pós-anarquistas Todd May e Saul Newman criticaram as ideias iluministas de uma perspectiva anarquista, apontando que os essencialismos e universalidades do pensamento anarquista clássico são simplesmente uma inversão da abordagem hobbesiana do “estado de natureza”, que vê o homem como inatamente mau e corrupto e o Estado como um árbitro essencial dos assuntos humanos anárquicos. Os pós-anarquistas defendem a rejeição dessas “metanarrativas” clássicas e, em vez de descartar completamente o anarquismo, defendem uma renovação das ideias anarquistas, libertando-as das estruturas e garantias que condicionam e restringem o anarquismo clássico, além de apresentar o anarquismo como uma afirmação, compreensão e superação do poder, em vez de uma rejeição total. Newman argumenta que “é somente afirmando o poder, reconhecendo que viemos do mesmo mundo que o poder, não de um mundo ‘natural’ distante dele, e que nunca podemos estar inteiramente livres das relações de poder, que se pode engajar em estratégias politicamente relevantes de resistência contra o poder”.
Algumas correntes do anarquismo se distanciaram ainda mais de seus predecessores clássicos. A anarquia pós-esquerda e o anarcoprimitivismo tentaram remover o anarquismo dos limites da ideologia e oferecer uma crítica aos movimentos anarquistas existentes, criticando a organização, a moralidade e, às vezes, a própria civilização, com uma rejeição absoluta dos valores iluministas. Primitivistas como John Zerzan enfrentaram críticas intensas de muitos anarquistas pelo que consideram sua visão regressiva da sociedade utópica. Sua defesa da destruição da tecnologia, do neoludismo e do retorno ao estilo de vida de caçadores-coletores tem sua origem em uma crítica abrangente ao capitalismo moderno e aos males sociais que ele cria. Para Zerzan, é um erro ver a tecnologia como um “objeto neutro” a ser usado positiva ou negativamente para servir a uma função social específica; em vez disso, o avanço tecnológico necessariamente leva à alienação e à degradação dos seres humanos. Seu radicalismo extremo e desejo de ruptura total com o status quo são acompanhados por um desejo de retornar a um estilo de vida libertador e mais simplista, no qual o homem esteja em harmonia consigo mesmo e com a natureza, sem as restrições de qualquer instituição, tecnologia ou a desunião e o distanciamento decorrentes da mecanização, automação e divisão do trabalho. As críticas anticivilização começam com a “ocupação da terra”, a mudança de caçador-coletor para agricultor e os primórdios da agricultura, descritos como “o triunfo da alienação e a divisão definitiva entre cultura e natureza e os humanos entre si… A própria terra se torna o instrumento de produção e as espécies do planeta, seus objetos”. Enquanto o anarquismo clássico tinha as ciências, a indústria e a tecnologia em alta estima devido aos seus supostos potenciais libertadores, Zerzan clama por sua aniquilação total com base no fato de que, desde seu início na Era do Iluminismo e da industrialização, do cercamento e da colonização ao capitalismo monetarista, a humanidade só se tornou mais escravizada e mais distante do mundo e de si mesma a cada chamado “progresso” e nova inovação no processo de produção.
Anarquistas pós-esquerdistas como Bob Black têm defendido a abolição do trabalho, enquanto Hakim Bey, misturando uma estranha vertente de misticismo sufi e “anarquismo ontológico”, propõe a criação de “Zonas Autônomas Temporárias” como “espaços de resistência” ou “espaços de esperança” para remediar as crises humanas que enfrentamos em uma era pós-fordista. Essas novas vertentes do anarquismo têm suas raízes nas obras clássicas de Bakunin, Kropotkin e outros, mas suas análises e métodos de resistência são muito diferentes. As disparidades surgem devido às mudanças na própria natureza do capitalismo e às mudanças na relação entre capital, trabalho e Estado que testemunhamos no último século. O anarquismo do pós-guerra também foi fortemente influenciado por escolas de pensamento antiiluministas mais contemporâneas, como o pós-modernismo e o pós-estruturalismo, bem como pelas filosofias neomarxista e situacionista, todas as quais alinharam os princípios libertários e anticapitalistas centrais de anarquistas clássicos, como Proudhon e Goldman, com a era moderna.
Título: Compare e contraste o anarquismo clássico com o anarquismo posterior a 1945
Subtítulo: Peça Chata (Fo Yo Plagiarism) #2
Autor: KPBSFS
Tópicos: movimento anarquista , história , organização , filosofia , pós-esquerda , pós-modernismo , teoria
Data: 17 de março de 2012
Fonte: Recuperado em 1º de junho de 2021 de kpbsfs.wordpress.com





